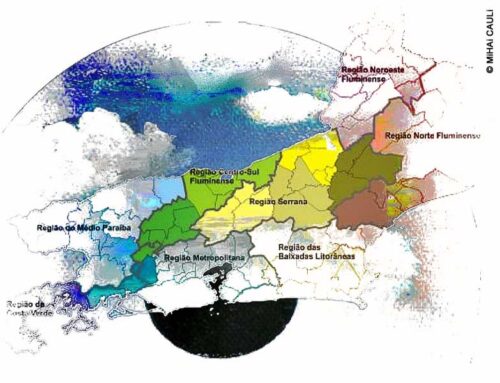Em seus filmes, Wes Anderson adiciona nostalgia, gente estranha, simetria, cores fortes e um minucioso trabalho de cenografia, para criar um universo onírico e lindamente artificial
A projeção começa, vejo as primeiras cenas, uma estanha sensação de nostalgia chega sem aviso prévio. É sempre assim quando assisto a um filme de Wes Anderson. A primeira vez que entrei em contato com sua obra, e com sua singular galeria de personagens, foi numa tarde chuvosa de 2002. Era uma época em que ainda ia ao cinema com certa frequência, antes de descobrir, logo no ano seguinte, o conforto de uma videolocadora perto de casa. Devo acrescentar, para amenizar essa confissão de abandono das salas de cinema, que não se tratava de qualquer videolocadora: a Paradise era a melhor do Rio. E não tenho dúvida de que este saudoso reduto de cinéfilos, se resistisse aos avanços tecnológicos, teria uma oferta bem mais interessante do que a disponível hoje nos pouco inspirados serviços de streaming.
Voltando a Wes Anderson e a 2002, a dica foi de uma bailarina por quem eu era apaixonado, e fomos juntos assistir a "Os excêntricos Tenenbaums" (2001). Mesmo que o genial "Nove rainhas" (2000), do argentino Fabián Bielinsky, tenha me surpreendido mais, os estranhos e esquisitos Tenenbaums não me saíam da cabeça. Desde então não perdia um filme deste intrigante diretor texano que chegasse à Paradise Vídeo, da mesma forma que não perdia os clássicos e os bons lançamentos produzidos em diferentes países, alguns deles verdadeiras obras-primas, como o drama "A separação" (2011), do iraniano Asghar Farhadi, ou os contundentes "Casa vazia" (2004) e "Time" (2006), do sul-coreano Kim Ki-Duk – três pérolas, entre tantas outras, ignoradas pelas plataformas de streaming.
O Grande Hotel Budapeste
Influenciado pela nostalgia de Anderson, viajo agora para 2014, em pleno voo, depois de nove dias em solo europeu que dariam um belo romance cinematográfico. Para suportar as horas acima das nuvens e disfarçar a saudade que já me apertava o peito, decidi me ligar na telinha do avião e assistir ao então recém-lançado "O Grande Hotel Budapeste" (2014). Umas 24 horas depois de desembarcar no Galeão, passei na Paradise e aluguei o DVD para rever o filme da maneira que me parecia mais aceitável: em minha antiga TV de 29 polegadas (hoje a de 50 me atende muito bem).
O filme se passa nos anos 1930, nos alpes europeus da imaginária Zubrowka, onde vive de glórias passadas o decadente Hotel Budapeste. Na imponente construção, palco das transformações históricas que ocorreram entre as duas guerras mundiais, floresce a amizade entre o respeitado concierge Monsieur Gustave (Ralph Fiennes) e seu discípulo Zero (Tony Revolori). Juntos, os dois se veem metidos em um imbróglio envolvendo um famoso quadro do Renascimento e a batalha por uma grande fortuna, enquanto um movimento fascista ameaça tomar conta do país. Uma trama muito divertida, com crítica social – o glorioso hotel representa o declínio da Europa com a ascensão do fascismo – e elenco inspiradíssimo.
Mesmo diante da antiga 29 polegadas, foi um deleite rever a típica galeria de personagens excêntricos, complexos e exóticos de Anderson. Como a Madame D. de Tilda Swinton, em atuação memorável, irreconhecível na pele de uma milionária octogenária; Willem Dafoe, no papel do assassino profissional J. G. Jopling; e Adrien Brody, representando o herdeiro da ricaça. E dessa vez pude perceber (na telinha do avião seria impossível) as cores fortes e os enquadramentos rigorosamente simétricos do diretor, os objetos e personagens alinhados com precisão – características que conferem a seus filmes uma estética única. Sem falar naquela estranha sensação de nostalgia que me acompanhou durante toda a projeção.
A incrível história de Henry Sugar
Voltei a sentir essa mesma sensação de nostalgia ao ver em setembro "A incrível história de Henry Sugar" (2023) – um reencontro com Wes Anderson desde a ótima animação "Ilha dos Cachorros" (2018), o que me levou a escrever esta resenha. Nesse média-metragem, adaptado do conto do escritor britânico Roald Dahl (1916-1990), o diretor lança mão de uma narrativa em abismo – aquela que contém uma história dentro da outra que, por sua vez, está dentro de outra. O próprio Dahl (Ralph Fiennes) nos introduz à trama no melhor estilo "contação de histórias".
Roald Dahl nos apresenta Henry Sugar (Benedict Cumberbatch) como um herdeiro milionário e egoísta que não trabalha e só pensa em dinheiro. Um dia, ele descobre um pequeno livro que trazia o relato de um médico sobre um misterioso artista de circo que, através de muito treinamento, aprendera a enxergar sem abrir os olhos. Henry fica fascinado: se dominar a técnica, poderá ler o outro lado das cartas de baralho e ganhar ainda mais dinheiro trapaceando nos cassinos.
Os narradores (todo filme de Anderson tem um narrador) se revezam em meio aos cenários de cores fortes e à rigorosa simetria do diretor. O que difere "A incrível história de Henry Sugar" dos demais filmes de Anderson é sua estética puramente teatral, o que poderia se tornar cansativo para alguns. No entanto, as elaboradas trocas de cenários e a dinâmica da narrativa acabam por dar ritmo e movimento à obra, apesar de a câmera permanecer estática em cada cena, durante os 39 minutos de projeção.
Moonrise kingdom
O reencontro com Wes Anderson também me levou a rever "Moonrise kingdom" (2012), disposto ao lado de "O Grande Hotel Budapeste" em minha pequena coleção de DVDs. E mais uma vez pude entrar no mundo colorido, artificial e deslumbrante de Anderson: o farol e a delegacia de polícia da minúscula ilha de New Penzance, na costa da Inglaterra, onde se passa a história, são reproduções em miniatura; da mesma forma que a praia onde os protagonistas – o escoteiro pré-adolescente Sam Shakusky (Jared Gilman) e sua amada Suzy Bishop (Kara Hayward) – se escondem; já a residência da família Bishop lembra uma casa de bonecas, com cada objeto inserido perfeitamente em seu ambiente, em um minucioso trabalho de cenografia. Tudo lindamente artificial.
A história é ambientada em 1965, nos últimos suspiros da inocência norte-americana, no período pré-guerra do Vietnã. E começa com um disco na vitrola (a trilha sonora é outro destaque), a câmera percorrendo a casa dos Bishop, cada membro da família em seu cômodo, fazendo sua parte da coreografia. Lá conhecemos o casal Walt (Bill Murray) e Laura (Frances McDormand) e sua filha mais velha, Suzy, que aparece em close numa postura de menina curiosa. Logo depois entra o narrador apresentando em detalhes as características da ilha, além de informar que em três dias uma tempestade chegará à pequena New Penzance. Na cena seguinte, vemos o acampamento de escoteiros e a fuga de Sam Shakusky.
Para desespero do escoteiro-chefe Ward (Edward Norton), as coisas ganham ares dramáticos quando ele descobre que Sam fugiu com sua amada Susy. Ward, então, pede ajuda ao capitão Sharp (Bruce Willis), o policial local, que, não bastasse ser amante da mãe de Suzy, teria duas duras missões pela frente: encontrar o casal apaixonado e lidar com a insensível representante dos serviços sociais (Tilda Swinton). Para piorar a situação, a anunciada tempestade se aproxima da ilha, que tem sua tranquilidade abalada de vez. Ao longo de toda a trama, temos comédia, drama, romance, aventura, ação e suspense. Anderson passeia entre diferentes gêneros e brinca com os clichês de cada um.
Os personagens, cuidadosamente desenvolvidos, têm personalidades marcantes e únicas, embora tenham muito em comum: suas inadequações, sentimentos contidos, apatia, falta de emoção e uma nostálgica e doce melancolia. É interessante notar também a inversão de papéis entre os personagens adultos e os pré-adolescentes, como o casal apaixonado e os escoteiros da Patrulha 55. Esses parecem saber o que querem, enquanto os adultos dão a impressão de estarem completamente perdidos. Em minha opinião, junto a "O Grande Hotel Budapeste", é o melhor trabalho de Anderson. E, para sorte de quem curte os filmes do diretor, "Moonrise kingdom" ainda sobrevive em meio à avalanche de títulos mornos que pipocam nas plataformas de streaming.
Storm Video, a locadora
Ainda pegando carona na nostalgia de Anderson, quero deixar registrada minha homenagem à perseverante e obstinada Storm Video. Localizada em Ipanema (Rua Gomes Carneiro 130, loja J), a videolocadora é comandada pelo enigmático Zé Carlos e conta com um extenso e rico acervo, que ficou ainda mais completo depois de herdar parte das pérolas cinematográficas da Paradise. A Storm também guarda muitas histórias que, juntas, dariam um belo roteiro para um filme de Anderson. No documentário "Storm Video" (2021), de Samuel Valladares, é possível conhecer algumas dessas boas histórias e a luta de Zé Carlos para manter esta videolocadora que resiste bravamente aos novos tempos e da qual já fui sócio ao ficar órfão da Paradise. Isso antes de me render aos novos tempos.
Onde Assitir os filmes
O Grande Hotel Budapeste: Star+
A incrível história de Henry Sugar: Netflix
Moonrise kingdom: Prime Video
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli
Clique aqui para ler artigos do autor.