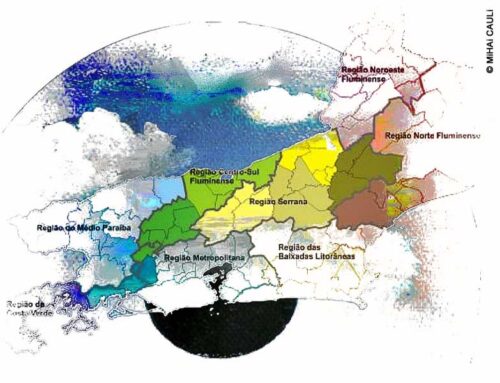Resenha do último livro de Juan Villoro, "A Figura do Mundo" (Random House), em que evoca a figura de seu pai.
Em seu livro mais recente, Juan Villoro mergulha no terreno do desconhecido: seu pai, o filósofo, ativista, embaixador do México na Unesco e militante zapatista, o mexicano nacionalizado catalão, Luis Villoro Toranzo. Como fica claro desde o início, "A Figura do Mundo" não é uma biografia formal, mas uma busca que começa ameaçadoramente com as palavras de uma escritora amiga do autor que, sentada, por coincidência, ao seu lado em um avião, lança a frase: "Intelectuais não devem ter filhos". Com seu habitual estilo mordaz e incisivo, pontilhado de aforismos e repleto de paradoxos, Villoro recria uma vida a partir de lembranças, dos momentos que passou com o pai, da leitura da sua obra, da vida pública de um homem estoico que evitava as relações pessoais, "alheio aos beijos e carícias", mas que acreditava na comunidade. Para isso, o autor do romance "A terra da grande promessa" lança mão da evocação, que ele define como "desorganizar sistematicamente o tempo".
É a história de um homem que era um mistério para o filho, um pai filósofo que poderia ter sido um agente secreto (ser filósofo é como pensar secretamente coisas que não se comunicam enquanto se vive numa realidade, que até certo ponto é como estar no exterior), ou um espião, que com os anos e a velhice foi se abrindo, se revelando, principalmente ao descobrir o verdadeiro sentido de comunidade (sobre o qual escreveu teoricamente antes) na selva de Chiapas. Ao falar do pai, Villoro faz, na verdade, uma história intelectual e política do México do século XX: do exílio espanhol à vida universitária (Luis formou-se na UNAM e fundou a UAM); da militância política ao massacre de Tlatelolco, em 1968; da prisão de Lecumberri (onde foram parar os intelectuais e estudantes envolvidos no movimento) à "abertura democrática" nos tempos de Luis Echeverría; e do futebol ao levante indígena zapatista de 1994. De maneira semelhante, ao investigar o pai, Juan Villoro encontra a si mesmo, "treinado para supor o que meu pai sentia secretamente, eu me dediquei à literatura", e depois acrescenta: "Dedico-me à literatura, onde se aspira escrever melhor do que se pensa, e ele se dedicava à filosofia, onde se pensa melhor do que se escreve".
O livro é também uma reflexão sobre o poder da memória, do esquecimento e da inevitável reinvenção de acontecimentos passados, para os quais o autor "deve voltar como se fosse outra pessoa, recuperando o trilho percorrido com passos leves, hesitantes, exploradores". É um relato de transformações: a do filho da burguesia que estuda com os jesuítas e se torna socialista, a do exilado catalão que chega a um país onde "nunca se adaptou totalmente", mas "o opróbrio do caos" levou-o a ser nacionalista. Assim como Juan tenta interpretar o pai, Luis Villoro se dedicou a decifrar o passado, recuperando as palavras dos missionários esclarecidos que se aliaram à causa indígena e tentaram interpretar e proteger a história pré-hispânica, resultando em seu primeiro livro: Os grandes momentos do indigenismo no México. Ele também refletiu sobre as ideias que levaram à independência e compreendeu as oportunidades perdidas da revolução mexicana.
A história de Luis Villoro é fascinante por sua obra e sua enorme importância no campo das ideias, mas também é uma manifestação da experiência do exílio e da relação entre Espanha e México. O filósofo era filho de um médico de La Portellada, nas colinas de Matarraña, Miguel Villoro Villoro, e María Luisa Toranzo, descendente de fazendeiros de San Luis Potosí, que fugiu da violência e da ameaça de ser sequestrada por um revolucionário. A jovem chegou a Barcelona, onde se casou, e nunca demonstrou grande interesse pelos filhos ou pelos assuntos familiares. Miguel morreu jovem e por causa da guerra civil enviaram Luis, seu irmão Miguel e sua irmã María Luisa para estudar na Bélgica. Mais tarde, com a Segunda Guerra Mundial, a viúva decidiu voltar para o México com os filhos, num delirante duplo exílio.
Juan Villoro tenta explicar e conciliar as extravagâncias de seu pai com seus defeitos ("as dúvidas, os erros de cálculo, a falta de jeito, as irritações comuns"), sua frieza (só o viu chorar uma vez e só o beijou em seu vigésimo primeiro aniversário) e sua insensibilidade ("nunca fomos um tema profundo o suficiente para ele, mas poderíamos levá-lo a outros temas", diz o autor, referindo-se a si mesmo e aos irmãos). Não há condescendência, nem rancor, para com este "parente longínquo", que era alérgico ao narcisismo, repudiava a autopromoção, ignorava as fofocas e as histórias pessoais e, sem dúvida, lhe interessavam as posturas ideológicas e estava convencido de que a esquerda deveria ser "uma forma de vida". Luis Villoro apreciava a solidão e valorizava a congruência, mas casou-se várias vezes, teve quatro filhos e participou de numerosos grupos acadêmicos, culturais e políticos, numa busca contínua de comunidade.
Luis Villoro descobriu o que significava ter filhos após seu primeiro divórcio. Foi então que descobriu que levar o filho Juan ao futebol era uma ótima forma de conviver e aprender a ser pai. Embora o jogo em si não lhe interessasse tanto, era um excelente pretexto para a convivência e para filosofia, da reflexão sobre a festa ao respeito devido ao rival.
Dentre todos os grupos dos quais participou, nenhum foi tão importante para o filósofo quanto o zapatismo. Em particular, estabeleceu uma relação quase paternal com o subcomandante Marcos (atual Galeano), o que colocava Juan no estranho papel de irmão do revolucionário montanhês (mesmo ambos tendo a mesma idade). A ideia de um grupo que buscava mudar tudo, não para obter o poder, mas para poder desaparecer, o fascinava, pois estava em sintonia com os personagens que mais admirava: Gandhi e Martin Luther King. Sua proximidade com o movimento é, de certa forma, uma maneira de fechar um ciclo de vida intelectual que começa com o estudo de Sahagún e Las Casas como interlocutores dos índios e termina consigo mesmo em papel semelhante: "O intérprete dos primeiros intérpretes dos índios se converteu em uma testemunha ocular".
As duas opiniões mais polêmicas que ele coleta do autor são em relação a um político e a um poeta. A primeira é a desconfiança que Andrés Manuel López Obrador, atual presidente do México, provocou nele, de quem foi um de seus seis assessores para a eleição de 2006. Apoiou-o, apesar de reclamar de sua relutância em ouvir críticas, sua pesada carga de vícios herdada de seus anos de militância no PRI e lamentava que o ativista de Tabasco não ouvisse ninguém e tivesse uma visão tão reduzida da realidade. "Ótimo para desafiar, ele não parecia muito interessado em promover o complexo tecido de transformações necessário para criar um governo de esquerda democrática." Apesar de suas falhas, ele pensou que era a melhor chance de remover os antigos partidos PRI e PAN do poder.
A segunda foi em relação a Octavio Paz, a quem criticou fortemente por ter se tornado um personagem próximo ao poder e à empresa Televisa. O poeta, que se identificou com os mais diversos dissidentes ao longo da vida, tornou-se uma contradição viva, "distribuindo favores e castigando" quem o elogiava e criticava. Quando Juan disse ao pai que não concordava, já que Paz não podia ser julgado apenas por isso, esse era o motivo do distanciamento, viu nele "um déficit moral". Porém, após sua morte, deixou a Juan as obras completas de Paz, como sinal de reconhecimento, sinal de que era capaz de reconsiderar e era, literalmente, uma oferenda de paz. Outra das linhas fulminantes e polêmicas do livro é que Luis Villoro considerou que "os europeus foram incapazes de deixar de lado sua visão colonial para se interessar pela inteligência latino-americana; eles apreciavam o realismo mágico dos romances, as histórias desordenadas de ditadores e borboletas amarelas porque isso confirmava que o novo mundo não era racional".
Luis Villoro morreu pacificamente em 5 de março de 2014. Depois de muitos debates, seus filhos decidiram que metade de suas cinzas deveria ir para a igreja dominicana, no Centro Cultural Universitário, e a outra metade para o caracol número 2 em Oventik, no território zapatista.
O epílogo do livro é particularmente revelador, onde Villoro conclui que, embora pretendesse escrever sobre o pai, na realidade escreveu sobre a mãe, Estela Ruiz Milán, psicanalista e diretora do centro de teatro infantil do Instituto Nacional de Belas Artes, e da visão que ela teve de quem foi seu marido por dez anos. A última parte é um diálogo entre o autor e sua mãe, que injeta uma vitalidade extraordinária na história. A mãe (e ex-mulher de seu pai) fala sem inibições sobre o amor, as expectativas, frustrações e saudades do que não foi. Também fala com carinho e respeito do pai de seus filhos, para quem ainda tem um "altar" em casa. Isso acrescenta a contraparte e completa a história de uma vida intensa e complexa. Aqui ela ironicamente se refere a seus filhos como "aqueles parentes distantes", aqueles seres que gradualmente se tornam desconhecidos.
Juan Villoro escreve: "Ser filho é fazer parte do processo de tentativa e erro. Os rascunhos que levam à versão que a posteridade julgará final." Esta provavelmente não é uma resposta definitiva à afirmação inicial de que os intelectuais deveriam abster-se da reprodução humana, mas é certamente uma forma de aceitar tanto o risco de ser pai quanto a condenação de ser filho. A sentença é invalidada pelo próprio Juan Villoro e por Inés, sua filha, que desde os seis anos teve a sabedoria de convencer o avô (homem que não mudava de opinião facilmente) de que a proibição do chocolate e do vinho que tinham imposto por causa de sua saúde (após um AVC) apenas refletia a necessidade de dosar algo precioso e não era sinal de desconfiança em seu bom senso. (Publicado na Revista Contexto y Acción em 11/06/2023).
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Vozes dos desaparecidos", de Abrao Slavutzky.