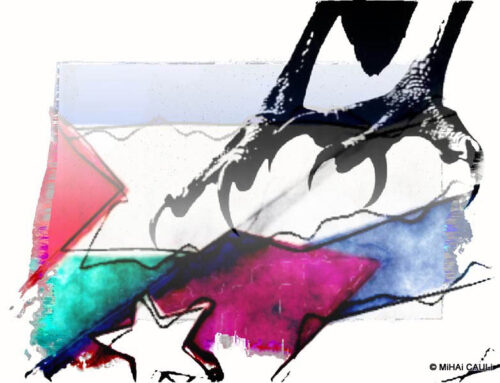Por que Biden propôs a fixação de mandatos para os juízes da Suprema Corte dos EUA?

Há poucos meses, já no final de seu mandato, o Presidente Joe Biden propôs a mais radical reforma na história da Suprema Corte dos Estados Unidos (SCEUA), a fim de que seus nove integrantes passem a ter um mandato fixo (de 18 anos).
Hoje, a Suprema Corte dos EUA é, praticamente, a única do mundo ocidental em que os integrantes ficam até quando quiserem, vários saindo apenas quando morrem.
Na maior parte de sua longa existência, a SCEUA se caracterizou por decisões bastante conservadoras (mesmo levando em conta o contexto histórico de cada uma delas). Ela considerou que a escravidão dos negros era constitucional (caso Dred Scott, de 1857) e, mesmo depois do fim da escravidão, considerou que a existência de escolas separadas para brancos e negros era constitucional (caso Plessy v. Ferguson, de 1896). Derrubou todas as tentativas iniciais de garantir direitos sociais nos EUA, a exemplo do caso Lochner v. New York, de 1905, no qual a Corte considerou inconstitucional a lei estadual que limitava em 10 horas a jornada de trabalho dos padeiros. Logo em seguida, a Corte anulou diversas leis propostas pelo programa econômico (new deal) do Presidente Roosevelt, e só mudou de posição (deixando passar as propostas de Roosevelt) quando este ameaçou mudar a quantidade de membros da Corte (nos EUA o número de ministros é fixado por lei, e não pela Constituição, como é o caso do Brasil).
No entanto, por um período relativamente curto (1953-1986), basicamente enquanto foi presidida por Earl Warren e Warren Burger (ambos, ironicamente, nomeados por presidentes republicanos; nos EUA, o presidente da Corte é nomeado pelo Presidente da República e tampouco tem qualquer mandato), a Corte produziu uma série de decisões memoráveis que representaram grandes avanços no campo dos direitos fundamentais. Podemos citar Brown v. Board of Education, de 1954, na qual a Corte (revertendo o caso Plessy) considerou a segregação de escolas inconstitucional; New York Times v. Sullivan, de 1964 – um caso que discutia a responsabilidade do jornal por matéria paga, proposta por ativistas negros do Alabama para levantar fundos para a defesa de Martin Luther King e que reforçou tanto a liberdade de imprensa quanto a liberdade do discurso político; Miranda vs. Arizona, de 1966 – um caso seminal para os direitos dos acusados em processos criminais, no qual a Corte decidiu que antes de formalizar qualquer prisão, a polícia deve lembrar ao preso seus direitos constitucionais, em especial o direito de permanecer calado e de não produzir prova contra si e, finalmente, a decisão mais polêmica de todas, Roe v. Wade, na qual a Corte, em 1973, decidiu que existiria um direito constitucional das mulheres ao aborto (sob certas condições) e, portanto, que as leis estaduais que o proibiam eram inconstitucionais.
Essas decisões foram naturalizadas como fazendo parte do acervo comum do direito constitucional ocidental, tanto pelo seu mérito intrínseco, como porque elas eram mencionadas nos filmes que a "geração Coca-Cola" assistia na sessão da tarde (quem nunca viu um filme no qual um policial prende um suspeito e declama o que ficou conhecido como seus "direitos de Miranda" – Miranda rights – você tem o direito de ficar calado, de falar com um advogado…).
Isso tudo está desmoronando. Numa virada conservadora impressionante, montada com grande paciência e método desde o governo Reagan e radicalizada com as nomeações de Trump, a SCEUA está revendo a grande maioria dessas decisões progressistas, a começar por Roe v. Wade que já foi reformada. O movimento inclui não apenas a – aqui denominada – agenda de costumes, mas também uma clara antipatia por qualquer regulação estatal, como foi o caso da decisão Citizens United de 2010, que praticamente acabou com qualquer limite ao financiamento privado de eleições (permitindo coisas como a promessa "desse elemento chamado E. Musk" de sortear 1 milhão de dólares entre apoiadores de Trump). Outro exemplo foi a recente reversão do conhecido caso Chevron, de 1984, que tinha dado sustentação à atividade normativa da agência federal ambiental dos EUA (em resumo, a Corte, em 1984, decidiu que, existindo dúvida sobre a compatibilidade de uma regulamentação com a lei de determinado setor, deveria se presumir que a regulamentação era válida, numa "deferência" ao estado regulador). Agora, no 1º semestre de 2024 (caso Loper Bright Enterprises), a corte, na prática, reverteu essa "deferência", facilitando muito o questionamento judicial de qualquer regulamentação estatal que não decorra de uma clara autorização legal e abrindo uma ampla avenida para a derrubada de várias normas em áreas como proteção ambiental, normas de segurança do trabalho, e outras.
Por que, neste contexto, Biden propôs a fixação de mandatos?
Antes de responder esta pergunta, vale olhar a experiência de outros países. Em pesquisa realizada com 15 países (considerados democráticos) dos cinco continentes, verificamos o seguinte resultado: nove preveem mandatos para suas cortes constitucionais ou cortes supremas (África do Sul, Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália, Portugal e Uruguai), mandatos que vão de 6 a 12 anos (com a média de 9,3 anos).
Na Áustria, Quênia, Israel, Japão e Argentina não existe mandato fixo, mas existe aposentadoria compulsória que varia: do final do ano em que o juiz completa 70 anos (Áustria); à data em que completa 70 (Quênia, Israel e Japão) ou 75 anos (Canadá) sendo que, no Japão, existe a previsão de que o mandato está sujeito a confirmação pelo governo de 10 em 10 anos. Na Argentina também não há mandato, mas após os 75 anos, os magistrados estão sujeitos a confirmações de cinco em cinco anos. Vale lembrar que, deste grupo, apenas a Constituição do Quênia é recente (2010), sendo que as demais têm pelo menos 50 anos de existência. No Brasil não há mandato e a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos.
E por que os EUA não estipularam um mandato? Porque nenhum dos chamados "pais fundadores" da Constituição dos EUA esperava que juízes da Suprema Corte servissem por tanto tempo. Afinal, no final do Século XVIII, quando a Constituição dos EUA foi escrita, a expectativa de vida, mesmo para os mais abastados, dificilmente ultrapassava os 60 anos.
Voltamos então à discussão sobre o porquê de introduzir o mandato. A resposta mais simples está nos princípios republicano e democrático, segundo os quais o exercício de funções com extrema concentração de poder deve ser limitado no tempo e sujeito ao crivo popular.
Pois bem, os membros da SCEUA, assim como os ministros do STF (e de várias outras cortes constitucionais ou supremas) são nomeados pelo presidente após a aprovação pelo Senado.
Este procedimento empresta ou transfere aos nomeados a legitimidade democrática ostentada tanto pelo presidente como pelos senadores. Quando não há mandato para os membros de uma corte suprema, esta legitimidade se dilui no tempo e temos, em uma república, funções que concentram extremo poder, mas que podem ser exercidas por décadas, sem o consentimento democrático.
Além disso, a ausência de mandato fixo possibilita um completo descasamento entre a opinião majoritária da sociedade e aquela da Corte. E falamos aqui de opinião majoritária tanto como aquela aferida em pesquisas de opinião como aquela aferida por ocasião das eleições presidenciais americanas; afinal quem nomeia os membros da SCEUA é o presidente.
O fato é que a composição e, portanto, o posicionamento da Corte passam a depender mais da ocasião em que os juízes vão decidir se aposentar (ou vão morrer) – durante o mandato de um presidente do mesmo partido daquele que o nomeou ou o contrário – do que da referida opinião majoritária. Isto sem contar que, nos últimos 25 anos, por duas vezes um presidente venceu a eleição nos EUA (com seu complexo sistema eleitoral) com menos votos populares do que seu concorrente (Bush Jr. em 2000 e Trump em 2016), sendo que o caso de Trump é exemplificativo pois, embora em 2016 tenha ficado (no voto popular) mais de dois pontos percentuais atrás de sua adversária (Hillary Clinton) ele nomeou em seu primeiro mandato três membros da Corte, ou seja, um terço.
É preciso dizer que nos EUA não há qualquer pudor em se referir a um candidato à SCEUA como representando opiniões mais conservadoras ou mais liberais, isto é considerado parte do jogo "democrático". A questão é que quando cresce a distância entre o pensamento da maioria da população e o da maioria da Suprema Corte, esta qualificação (democrática) vai sendo mais questionável.
E aí voltamos à utilidade de um mandato para os membros de cortes supremas: ele garante a legitimidade popular da Corte e aumenta as chances, senão de manter uma maior sintonia entre a opinião popular (expressa de distintas maneiras, mas sobretudo nas maiorias presidenciais) e a opinião da Corte, ao menos de evitar um completo descasamento entre elas.
Mas o fato é que os democratas perderam a eleição. Trump fez a maioria do Congresso americano e já controla a Suprema Corte com uma maioria bastante conservadora.
O projeto de Biden, portanto, não tem qualquer hipótese de avançar, ainda que tenha tido o mérito de provocar – por parte de um presidente respeitado – a discussão do tema.
Assim, o que devemos esperar é uma rápida aceleração na agenda de desconstrução dos direitos constitucionais afirmados nos anos 50-80 e o ataque à capacidade regulatória do Estado, agora acusado de "Estado profundo".
O que está acontecendo nos EUA guarda alguma relevância com o que se passa no Brasil? Bem, não há dúvida de que nosso modelo de Supremo Tribunal Federal foi abertamente inspirado no modelo dos EUA. Até o número de juízes (nove) era o mesmo originalmente (pela Constituição de 1891) e só foi ampliado mais tarde (para onze). Por outro lado, comparativamente, nosso Supremo Tribunal Federal tem muito mais capacidade de interferir em temas da administração pública do que a Suprema Corte dos EUA (em parte porque no Brasil a quantidade de temas expressamente constitucionalizados e, portanto, sujeitos a apreciação da Corte, é muito maior e em parte por características de nosso direito constitucional que empresta ao Supremo um protagonismo inédito em comparação com outros países). As circunstâncias políticas, são distintas. Aqui, um presidente só é eleito com a maioria do voto popular. Por outro lado, a tendência (mais forte lá do que aqui) de radicalização política, sobretudo da direita, é um traço comum.
Temos então que debater o assunto no Brasil? Certamente, mas esse é tema para outro artigo.
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Clique aqui para ler artigos do autor.