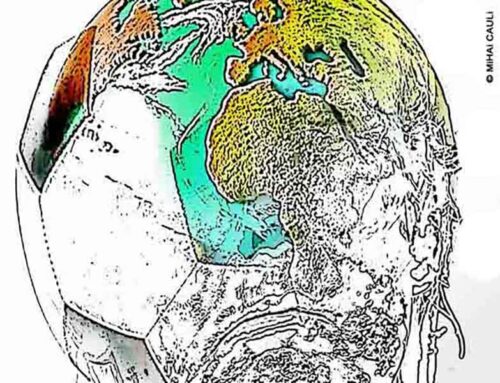Em seu livro “O mundo assombrado por demônios”, o cientista Carl Sagan descreveu em detalhes o famoso caso dos desenhos que surgiram misteriosamente em plantações de cevada, aveia e trigo, no condado de Wiltshire, na Inglaterra. Caracterizados por grandes e perfeitos círculos em meio às plantações, tais eventos não tardaram a ser atribuídos a extraterrestres e passaram, imediatamente, a atrair turistas interessados no assunto.
Até aí, nada de muito novo. Há outros locais mundo afora que atraem turistas por serem o centro de mistérios. Um dos mais famosos está também na Grã-Bretanha. O Lago Ness, nas Terras Altas da Escócia, ficou famoso pelas fotos e filmagens que teriam flagrado uma criatura similar a um plesiossauro, um grande réptil marinho extinto no Cretáceo. Assim como ocorreu com Wiltshire, essa região se beneficia até hoje do turismo movido por seu lendário monstro.
Mas os tais círculos oferecem uma história diferente. Em 1991, após 15 anos de especulação, investigação (ufólogos, estudiosos de eventos paranormais etc.), turismo e muita notícia na imprensa (com direito a visitas da família real), dois senhores confessaram, com riqueza de detalhes, como fizeram os círculos ao longo de todo aquele tempo. A ideia, que nasceu num pub, era uma brincadeira que foi ficando mais divertida e sofisticada com o tempo. Acontece que, ao passo que aqueles brincalhões se tornaram sessentões, eles não tinham mais disposição para sair escondidos à noite, no frio inglês, e fazer figuras tão complexas que só poderiam ter sido feitas por alienígenas. Os círculos eram agora uma sabida fraude. O que mudou com isso? Pouco. Na prática, os desenhos continuam “misteriosamente” aparecendo e, embora pareçam ser feitos por alienígenas bêbados (não têm mais aquela precisão dos originais), continuam trazendo turistas à região.
Mas qual seria a ligação desses eventos com as discussões sobre o uso da cloroquina no Brasil, em especial sobre as discussões que chegaram ao Senado brasileiro, na CPI da Covid? Há duas conexões fortes, uma bizarra e outra didática no que diz respeito ao entendimento e aceitação da ciência pelo grande público. Comecemos pela bizarra.
Desenhos detectados e divulgados pelo jornal inglês Daily Mail Online em maio de 2020, época em que a Europa ainda dava alguma atenção à cloroquina, novamente nos campos de cevada de Wiltshire, lembravam a fórmula química do dióxido de cloro. Em segundos, eles eram tidos, nas redes sociais, como a fórmula da cura da Covid, enviada a nós caridosamente pelos ETs. A cloroquina não seria mais somente uma cura milagrosa de negacionistas, ela também é um remédio das galáxias!
Assim como no caso dos desenhos de Wiltshire, um dos maiores divulgadores dos benefícios da cloroquina no combate à Covid, o cientista e médico francês Didier Raoult já admitiu o próprio erro sem que os defensores da prática no Brasil se importassem. Além disso, todas as análises rigorosas conduzidas sobre o assunto mostraram que não havia qualquer indício de que a droga fosse eficiente em qualquer etapa do tratamento e que seus efeitos colaterais, como problemas cardíacos e cegueira, poderiam piorar ainda mais o estado dos pacientes.
Essa situação nos remete de maneira muito didática a questões que atingem o cerne da relação de seres humanos com o mundo e nossos sistemas de formação de crenças. Mostram com uma clareza constrangedora como, por exemplo, diante da comodidade, seja ela por questão financeira ou mera conveniência histórica, senhores e senhoras com grande credibilidade em suas comunidades não somente podem, como tendem a mentir ou se iludir deliberadamente. Se um ou outro e em quais graus, não cabe discutir aqui.
Por outro lado, sobre aqueles que caem nesse “conto do vigário” incide outra questão, o nosso ainda precário entendimento do que sejam “ciência” e “conhecimento científico”. Embora eles estejam agora na “boca do povo”, mesmo quando quem fala é um suposto conhecedor do assunto, a mensagem chega sempre de maneira trôpega e cheia de vieses a nossos ouvidos. E foi justamente isso, claro, além de tudo o mais referido no parágrafo anterior, que se constatou no depoimento da pediatra e secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, na CPI da Covid, semana passada. Houve até senador afirmando que seria negacionismo científico não usar a “hidroxocloroquina”, já que competentes médicos juravam de pés juntos que a tinham visto funcionar.
Quando associada aos eventos passados no pacato condado inglês, tal situação nos permite contribuir, de maneira bastante clara, para o entendimento do que seria ciência. Para isso, podemos começar informando ao senador que enumerar cinco, seis ou mil médicos competentes que usaram ou receitaram cloroquina para seus pacientes não torna seu uso científico e, muito menos, os torna pesquisadores. Na verdade, acaba havendo uma forte contradição entre o “competentes” e a prescrição da droga nesses casos.
Além disso, cabe ressaltar que negacionismo científico não é a rejeição pela ciência de um saber anedótico qualquer, seja ele uma crendice de médicos, seja ele o desejo do presidente e sua claque de que um determinado remédio tire a população de seu confinamento. Negacionismo é a crença de que o conhecimento científico disponível só é correto quando conveniente às nossas expectativas, sejam elas de cunho religioso ou financeiro, individual ou coletivo. É acreditar mais em nosso desejo do que nas evidências disponíveis no mundo. É achar que basta desejar que uma doença seja uma gripezinha para que ela se torne uma.
Foi assim que aconteceu com a indústria do fumo, que insistia que o cigarro não provocava câncer de pulmão; foi assim com as vacinas, que apesar de amplamente corroboradas, enfrentam até hoje uma resistência estúpida, quase assassina, de segmentos da sociedade; é assim com os terraplanistas; tem sido assim no que diz respeito à evolução das espécies, hoje um fato tão corroborado quanto qualquer montanha que se apresente diante de nossos olhos; foi assim com as queimadas na Amazônia e no Pantanal, etc. A opinião de especialistas é posta de lado como política e a de políticos assumida como técnica, em uma inversão só possível nas narrativas conspiratórias de negacionistas.
Mas nem tudo que envolve ciência e não ciência é simples como nos casos referidos acima. O conceito de ciência, que vem sendo seriamente debatido por séculos, é ainda muito mal compreendido. Os limites entre os conceitos de fato, conhecimento popular, saber científico e verdade põem a teste a maioria das pessoas, mesmo dentre os ditos eruditos e os produtores de ciência de alta qualidade. O cara pode ser o gênio da microbiologia ou da mecânica quântica, mas não entender porque o que faz é ciência. Isso acontece e não é surpresa alguma para quem se dedica à filosofia das ciências. Cientistas hoje são tão especializados que, por vezes, deixam de entender de ciência como um todo. No mais das vezes, as pessoas até sabem distinguir, dentre os saberes, quais são científicos, mas não sabem dizer exatamente por quê.
Certa vez, em uma palestra, perguntei aos ouvintes o que seria ciência na cabeça deles. A primeira resposta foi muito didática sobre essa dificuldade. “A ciência é o saber que tem respaldo metodológico e matemático”. Em seguida eu perguntei se existia metodologia e matemática por trás da astrologia e todos no auditório responderam que sim, mas indicaram que ela não seria uma ciência mesmo assim. Então eu insisti em perguntar por que não, e a resposta que recebi foi de que sua metodologia não seria científica ou que não teria sido demonstrada em um “periódico científico”. Foi quando constatamos que a discussão tinha voltado à estaca zero, afinal, ninguém havia dado a explicação sobre o que distinguiria algo científico de não científico.
As discussões continuaram. Frases apareciam de todos os lados: “a ciência tem que ter respaldo em lógica”; “ela tem que fazer sentido”; “tem que ser fundamentada em evidências”; “tem que ter repetibilidade”; “deve ser consensual”… A essas afirmações eu insisti usando a astrologia. Ela faz sentido (ou não duraria dois mil anos!) e poderia ser consensual, bastando que acreditássemos nela; respalda-se na lógica (lógica formal não precisa de respaldo na realidade); é baseada em evidências (na posição dos astros e nos fatos históricos); e todos os seus cálculos apresentam repetibilidade (faça seu mapa astral com dois astrólogos diferentes e verá!). Foi quando o auditório entrou em parafuso, fato verificável pelo ruído das dezenas de conversas paralelas e ansiosas. Onde eu queria chegar? O que seria então ciência? Haveria algum critério lógico que determinasse isso?
Nos últimos 332 anos de filosofia da ciência (usando o Ensaio sobre o Entendimento Humano de John Locke como marcador arbitrário), os filósofos discutiram intensamente como chegar a um conhecimento seguro, que fosse capaz de não ser surpreendido pelas ilusões do mundo, dentre elas, a do costume, ou seja, aquela que nos faz crer que o amanhã repetirá o hoje.
Por mais que víssemos cisnes brancos, não poderíamos jamais afirmar que os cisnes de amanhã seriam igualmente brancos (problema de Hume ou da indução). Isso quebrava totalmente a possibilidade de raciocínios lógicos que começassem no mundo natural, visto que eles precisam de ao menos uma proposição universal verdadeira de onde partam as deduções válidas. Foi quando chegou o famoso Karl Popper e nos mostrou que isso era verdade, mas que também era verdade que, no dia em que víssemos um cisne negro, poderíamos afirmar que era falsa a proposição de que todos os cisnes eram brancos. O falseamento era possível. A prova positiva, não. Daí por diante, quanto mais falseável fosse uma hipótese, mais científica ela seria.
Importante repetir “quanto mais falseável, mais científica”. Não se tratava mais de ser ou não ser científica somente. Critérios anteriores continuavam valendo. Repetibilidade, verificabilidade, robustez factual etc. A falseabilidade chegou como a cereja do bolo. Como uma espécie de selo de qualidade. Como um indicador quase mensurável de cientificidade.
E aqui chega a resposta do porquê a astrologia não poderia ser considerada uma ciência mesmo com toda a sua matemática. Ela não deixaria de ser uma ciência simplesmente porque eu não acredito que Marte tenha qualquer relação com minha personalidade, mas sim porque um mapa astral não oferece a possibilidade de refutação. Duas crianças que nasçam em quartos diferentes de um mesmo hospital no mesmo momento e que tenham vidas completamente diferentes não seriam o suficiente para mostrar que, em ao menos um dos casos, os astros erraram. Afinal, um astrólogo sempre encontraria caminhos para explicar tal desencontro, geralmente apelando para a força das ilusões da vida sobre o observador. “Quem somos nós para dizer que eles são tão diferentes? Quem é feliz ou triste? O que seria riqueza e pobreza, sucesso ou fracasso?”. Experimente falar para algum crédulo em astrologia que você não tem nada a ver com seu signo. Aprenda então, com a resposta que virá dele, porque ela não é uma ciência e, de quebra, entenda o significado de “hipótese ad hoc”.
O mesmo se pode falar de Deus. Para cristãos, não faltam evidências da existência dele. Qualquer nascer do sol serviria como tal. Mas a existência divina não é uma hipótese refutável e nem precisava ser! Deus é uma história de fé e não de ciência. Daí a possibilidade perfeita de convivência entre os saberes religiosos e o científico. Cada um em seu local e com seu uso.
A ciência, por sinal, está longe de ser a única forma de saber. A própria astrologia pode ser uma forma interessante e válida de saber, mas ela não deve, jamais, ser tomada como científica ou carregaria consigo uma credibilidade cuja construção nada tem a ver com suas rotinas. O conhecimento tradicional não é menos importante por não ser científico, mas, igualmente, não pode ser considerado como tal a menos que seja trabalhado dentro dos referenciais popperianos e de tantos outros filósofos que contribuíram para o assunto. A história mostrou que vários desses saberes foram incorporados a diversas áreas da ciência por terem passado em todos os testes de robustez necessários. Outros não.
A consistência do que chamamos de método científico hoje e de seus ancestrais (como o do referido John Locke) está mais que corroborada pelo nosso desenvolvimento tecnológico, médico, industrial e de relação com o mundo natural à nossa volta. Claro, há questões a serem superadas, como a problemática que envolve o uso da fabulosa cereja de Popper. Há diversas limitações que fazem com que algumas ciências sejam mais empíricas e menos hipotético-dedutivas (lógicas). Além disso, o que a ciência inclui como tal varia de geração para geração, conforme o rigor e o saber da época. O que hoje não é ciência, amanhã poderá ser. Há fontes de influência social e ambiental como a própria hierarquia acadêmica, o machismo e o racismo estruturais que interferem nas rotinas científicas e reduzem a qualidade de seu produto. Isso já era indicado pelos filósofos que se dedicaram ao tema ao longo do Século XX, como Ludwik Fleck, Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. Mas esse é um tema complexo e não se relaciona com o assunto que motivou este texto e ao qual retorno agora.
A hipótese da eficiência da cloroquina no combate à Covid era metodologicamente fraca e falsa, mas pode ser dita científica, justamente por ter se permitido falsear. Já o uso do remédio, ignorando a fragilidade da hipótese inicial e não admitindo a refutação de sua eficácia por outros artigos**, tornou essa prática não científica em quaisquer dos referenciais de ciência publicados nos últimos quatro séculos. Trocando em miúdos, trata-se de uma hipótese falsa e do uso não científico de uma droga. (Entrevista com um dos pesquisadores brasileiros que refutaram o uso da cloroquina).
Com sua defesa, os membros do Ministério da Saúde trouxeram Wiltshire para o Senado e expuseram a população brasileira e mundial a uma argumentação, rigorosamente, medieval. Os poucos senadores que se curvaram aos argumentos provaram não entender o significado de ciência. Afinal, basear uma política de estado no conhecimento anedótico de médicos (suas impressões com base em amostragem não controlada) seria equivalente a fazer o mapa astral de seu inimigo antes de uma guerra e se guiar por ele. Quem quiser pode fazê-lo, mas isso vai obrigá-lo a gastar uma energia que poderia ser mais bem empregada em algo sabidamente eficiente, no caso, equipamentos, pesquisas e compra de vacinas. Claro, pode-se alegar, como fez o próprio presidente, que se não há provas a favor, também não haveria provas contra. Nesse caso, você equipararia a política de estado ao comportamento de um cara que, diante da possível ruína financeira, aposta as últimas reservas em um cassino. A questão que fica é: queremos um país assim?
***
Clique aqui para ler outros artigos do autor.