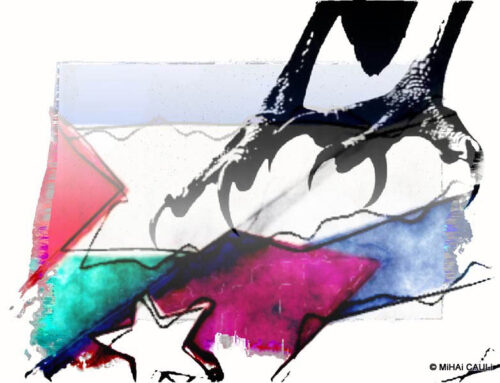A democracia americana é suficientemente forte para suportar uma nova onda de ataques aos direitos civis – mas apenas se a sociedade civil se mobilizar para defendê-la.

Em 27 de janeiro de 2017, apenas uma semana após sua primeira posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump proibiu a entrada no país de cidadãos de sete países de maioria muçulmana. Naquela tarde, dezenas de advogados da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) montaram postos improvisados nos principais aeroportos para ajudar viajantes afetados pela proibição, ao mesmo tempo em que a ACLU recorria aos tribunais. No dia seguinte, uma juíza de Nova York suspendeu a medida, no primeiro de uma longa série de julgamentos e recursos. Um ano e meio depois, a maioria conservadora da Suprema Corte acabou aprovando uma proibição mais limitada que a original.
Não existe uma entidade equivalente a ACLU norte-americana em nenhuma democracia ocidental. Fundada há 104 anos, a organização conta hoje com mais de um milhão de membros, uma equipe de quase dois mil profissionais, representação em cada um dos 50 estados do país e milhares de advogados que prestam seus serviços de forma voluntária. Sua principal atividade é a defesa jurídica dos direitos civis, de maneira rigorosamente apartidária. A ACLU nunca cobra por seus serviços legais.
O primeiro mandato de Trump gerou um tsunami de novas filiações à ACLU: em 15 meses, o número de membros saltou de 400.000 para 1,8 milhão de contribuintes. Também abriu novas frentes de luta na defesa dos direitos dos imigrantes e suas famílias, das mulheres, da comunidade LGBTQ+ e da liberdade de expressão, de cátedra e de imprensa. A pessoa encarregada de coordenar tudo isso era David Cole, um professor da Faculdade de Direito da Universidade de Georgetown, que foi nomeado diretor jurídico da ACLU no verão de 2016, meses antes da inesperada vitória eleitoral de Trump.
Oito anos depois, Cole retornou ao seu posto na universidade. Sua experiência nas trincheiras não destruiu sua fé no sistema; pelo contrário: em novembro, poucos dias depois de Trump vencer as eleições pela segunda vez, ele publicou um artigo na New York Review of Books, argumentando que a democracia norte-americana é suficientemente forte para suportar uma nova onda de ataques aos direitos civis – mas apenas se a sociedade civil se mobilizar para defendê-la. "Nosso pior inimigo não é o próprio Trump", escreveu, "mas a ideia fatalista de que somos incapazes de detê-lo. Os controles e contrapesos da Constituição não se ativam por conta própria: só funcionam quando a cidadania e a sociedade civil estão dispostas a lutar. O primeiro mandato de Trump demonstra que, se estivermos dispostos, podemos limitar os danos e mudar o curso dos acontecimentos."
Entrevista com David Cole (1958), autor de Engines of Liberty: The Power of Citizen Activists to Make Constitutional Law (Motores da Liberdade: O Poder dos Ativistas Cidadãos na Criação do Direito Constitucional, 2016), entre outros livros.
Sebastiaan Faber: O senhor afirmou que os Estados Unidos possuem "uma sociedade civil excepcionalmente robusta". Mas fora dos EUA muitos veem o país como politicamente apático, já que a participação eleitoral aqui costuma ser bem menor que a de muitas outras democracias. Isso é uma contradição?
David Cole: Não necessariamente. Mas é uma boa pergunta. Pode ser que as mesmas pessoas que votam sejam aquelas que acabam se envolvendo na sociedade civil. É verdade que uma participação eleitoral de 50% seria considerada baixa, mas ainda assim seria um percentual muito alto de engajamento cívico. Por outro lado, é sabido que, neste país, há forças que dificultam o comparecimento às urnas. Além disso, dentro do nosso sistema eleitoral, é fácil acreditar que seu voto não faz diferença, a menos que você viva em um dos estados decisivos.
SF: Moro neste país há quase 30 anos e nunca deixei de me surpreender com a quantidade de pessoas dispostas a participar de organizações comunitárias, desde igrejas até coletivos ativistas, muitas vezes de forma voluntária. É um nível de apoio social que não vejo na Europa.
DC: Não devemos esquecer que o governo norte-americano é bastante minimalista. Na comparação com a Europa, dependemos muito mais dessas formas alternativas de apoio mútuo. Por outro lado, as organizações da sociedade civil com as quais mais tenho contato, como a própria ACLU, estão menos focadas em apoio social e mais voltadas para a reivindicação de direitos. São pessoas que se unem para lutar por valores compartilhados.
SF: No artigo que escreveu para a New York Review sobre os perigos da segunda presidência de Trump, o senhor destacou várias frentes de resistência: os tribunais, que já o limitaram em outras ocasiões; o Congresso e o sistema federal, ambos capazes de limitar o poder do presidente; o Estado de Direito; e a sociedade civil, incluindo jornais, revistas e universidades. Todos, segundo o senhor, "podem servir como centros de oposição". Chama minha atenção que não mencione o funcionalismo público, esse corpo que alguns chamam de "Estado profundo". Ele também pode servir como trincheira?
DC: Até certo ponto, sim. A existência de uma grande burocracia dificulta implementar mudanças de um dia para o outro. Isso é certamente verdade no caso do funcionalismo público nos EUA, que conta com proteções trabalhistas importantes — proteções que, não por acaso, Trump tentou limitar. Ele entende muito bem que haverá funcionários públicos mais comprometidos com sua agência ou departamento do que com a presidência, os quais não compartilham com seus pontos de vista e que não estão entusiasmados em implementar suas políticas de forma agressiva.
SF: Nesse sentido, o que o senhor pode dizer sobre a cultura institucional do Judiciário? Na Espanha, a cultura interna do Poder Judiciário — conservadora, endogâmica e politizada — é vista como um problema. Qual é a situação nos Estados Unidos?
DC: De maneira geral, diria que os juízes norte-americanos têm um apego muito forte à independência judicial e à importância de decidir casos com base em precedentes e na lógica, em vez de compromissos ideológicos. Até recentemente, para se tornar juiz — especialmente no Judiciário federal —, era necessário ser uma pessoa do establishment. Normalmente, os nomeados eram procuradores, advogados em grandes escritórios, ou pessoas com cargos no governo. Isso implica em um compromisso claro com as instituições. Era raro nomear alguém com ideias extremas.
SF: Isso está mudando?
DC: Até certo ponto, sim, por dois motivos: pela polarização política do país e porque o Congresso eliminou o filibuster (basicamente a arte de obstruir uma proposta legislativa por meio de discursos intermináveis) no processo de confirmação de juízes. Essa mudança ocorreu durante a presidência de Obama, para superar o abuso da medida pelo Partido Republicano. Antes disso, qualquer candidato a juiz federal precisava de 60 votos no Senado, o que quase sempre exigia o apoio de alguns senadores da oposição. Isso não é mais necessário, permitindo que um presidente com maioria no Senado nomeie pessoas alinhadas apenas com seu partido. Trump, por exemplo, nomeou juízes muito conservadores, especialmente para os tribunais de apelação. Biden, por sua vez, nomeou pessoas que antes seriam improváveis, como defensoras públicas, mulheres e pessoas negras. Em outras palavras, temos hoje juízes mais diversos, mas também com ideias mais extremas. Ainda assim, a mentalidade predominante no Judiciário federal continua centrada na independência.
SF: Em outras palavras, os juízes se preocupam com o decoro institucional?
DC: Não apenas com o decoro, mas com a responsabilidade de defender sua independência, o que não é a mesma coisa. Pode-se ser decoroso e ainda assim servil.
SF: Essa responsabilidade também é sentida por alguém como John Roberts, presidente da Suprema Corte?
DC: Sem dúvida. Acredito que todos os juízes da Suprema Corte sentem isso. Eles se preocupam com a legitimidade institucional da Corte. Estamos em um momento crítico, com seis juízes indicados por presidentes republicanos e três por democratas. A Corte atual é muito conservadora e fez muitas mudanças em pouco tempo. No entanto, em muitos casos, suas decisões não seguem linhas partidárias claras, e há respeito pelos precedentes. Essa preocupação com a legitimidade impõe uma forma de autodisciplina.
SF: O senhor menciona o poder da imprensa, mas pouco fala do poder empresarial. Nas últimas eleições, vimos como o proprietário do Washington Post, Jeff Bezos, impediu que o jornal declarasse apoio a um candidato. Os poderes econômicos ameaçam a função democrática da sociedade civil?
DC: Não sei se representam uma ameaça maior do que em outros períodos históricos. O que considero mais problemático é a crescente desigualdade entre ricos e pobres, que gera instabilidade social. Isso ajuda a explicar o sucesso de Trump, apesar de seus defeitos evidentes. Mas não acho que Trump fosse o candidato preferido do setor empresarial. Grandes corporações não necessariamente o apoiaram. A desigualdade econômica reflete-se no poder excessivo de poucas empresas sobre o financiamento de campanhas, mas isso não é tão diferente do poder que as companhias ferroviárias tinham no século XIX. As grandes empresas de tecnologia concentram muito dinheiro e poder, mas as redes sociais têm possibilitado que cidadãos comuns se organizem e expressem suas ideias de formas antes impensáveis, como vimos nos movimentos Black Lives Matter, Marcha das Mulheres e Marcha por Nossas Vidas.
SF: O senhor acaba de completar oito anos como diretor jurídico da ACLU. Muitas pessoas, dentro e fora dos EUA, têm dificuldade em entender que é uma organização rigorosamente apartidária.
DC: A polarização política torna cada vez mais difícil ser apartidário. Muitas das nossas lutas nos associam à esquerda, mas isso se deve mais ao contexto político atual do que a um alinhamento ideológico. A ACLU é uma organização extraordinária e centenária, comprometida com a defesa da Bill of Rights (Carta de Direitos) como um todo, diferente de grupos como o Legal Defense Fund, focado na justiça racial, ou a NRA, centrada na segunda emenda. Cobrimos todas as liberdades civis, o que gera desacordo interno sobre táticas, estratégias e prioridades.
SF: A rapidez com que vocês atuam em crises, como na proibição de entrada de muçulmanos em 2017, é impressionante.
DC: (Risos.) Bem, nos preparamos muito. Nos últimos meses, por exemplo, trabalhamos intensamente para nos preparar para uma segunda presidência de Trump. Para cada área de atuação, já temos extensos memorandos detalhando onde acreditamos que ele tentará cruzar a linha, o que esperar e como responder. Esses documentos estão disponíveis no site da ACLU. (Publicado por Ctxt)
***
Os artigos representam a opinião dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial do Terapia Política.
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone
Leia também "Fim do poder vitalício dos juízes americanos?", de Rodrigo Mascarenhas.